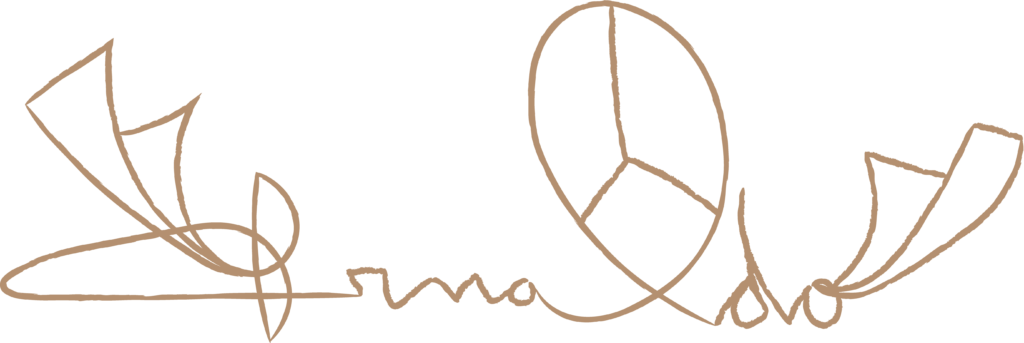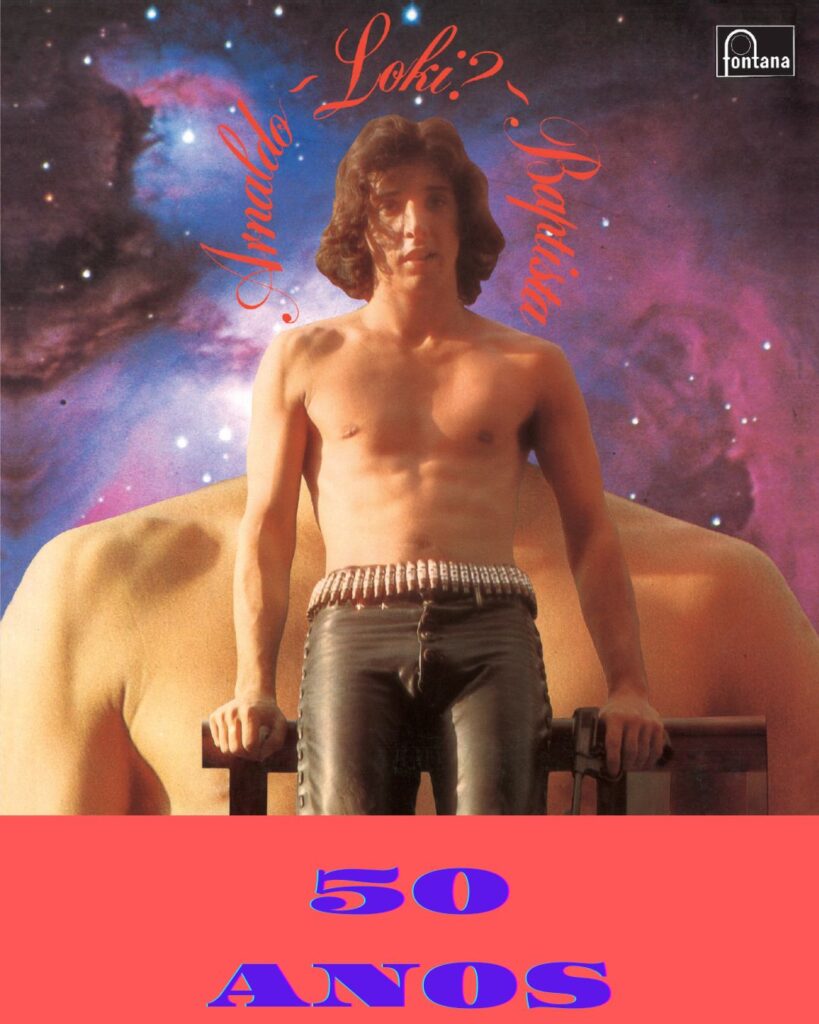
LOKI?
por
Jotabê Medeiros
Loki, o deus asgardiano da
trapaça e da loucura, não teria previsto tal insanidade: em 1974, sozinho com
seu piano em seu quarto na Serra da Cantareira, um rapaz de 26 anos, Arnaldo
Dias Baptista, que todos supunham desorientado, nutriu a semente de um disco
que mudaria para sempre a face da música brasileira.
“Loki?”, o disco, foi
gravado de um fôlego só, sem repetir takes, no Estúdio Eldorado, em São Paulo,
em 16 canais. Possui 10 faixas e 33 minutos de duração, não apela a um único
riff de guitarra (uma heresia para a época) e emparelha sintetizador com
violão, arranjos orquestrais com clavinete e órgão. Sua musicalidade é
visionária: há sambalanço, glam, baladas pop à moda britânica, rockabilly
norte-americano, MPB, clássico, digressões progressivas. A invenção é a única
fronteira do álbum, mas não é um experimentalismo cartesiano, de nerd – Arnaldo
arrombou sem cerimônia as portas da
percepção.
“Loki?” abriga desde uma viagem instrumental entre Chopin e Elton John, na
composição “Honky Tonky”, até um certo orientalismo, que escorrega depois para
o blues e chega até a MPB tradicional no violão de 12 cordas em “É Fácil”.
Arnaldo é homem-banda se desdobrando em busca do efeito certo, como mostra com
o sintetizador Moog em “Desculpe” e “Te Amo, Podes Crer”. Quando canta “onde é
que está meu rock’n’roll”, ele é puro Jerry Lee Lewis, mas aí emenda um “eu vou
voltar pra Cantareiraaaaaa”, que é pura MPB, e anarquiza as referências.
O ex-Mutante teve a lucidez
(com apoio de Roberto Menescal, diretor artístico da Philips, que o bancou, e
Marco Mazzola, que o produziu) de buscar a ajuda que precisava. O maestro
Rogério Duprat, então ex-tropicalista, abominava aquilo em que o rock se
tornara: uma fórmula batida de guitarra, baixo e bateria, um rótulo musical,
uma limitação da imaginação. Por causa dessa conjuntura, largou tudo e foi
viver em uma marcenaria doméstica em Itapecerica da Serra. Ao lapidar duas
canções de Arnaldo (“Uma Pessoa Só” e “Cê Tá Pensando Que Eu Sou Loki?”), teve
a sensação de que havia ainda um mundo a descortinar. Era o nosso George Martin.
Este disco é para ser ouvido
em alto volume, recomendava Arnaldo. Não precisava da recomendação: o disco era
tão importante que vai ressoar eternamente, enquanto seu tempo fica para trás. Havia,
desde janeiro daquele ano, um novo general conduzindo com mão de ferro a
ditadura militar, Ernesto Geisel. Essa sombra permanente fazia com que toda a
arte da época soasse combatente, engajada. Liricamente, Arnaldo elegia sua
própria angústia existencial como o universo a ser compreendido, e legou ao
futuro uma Bíblia de utopia alternativa. “Ficamos até mesmo todos
juntos. Reunidos numa pessoa só”, cantava, em “Cê Tá Pensando que eu
Sou Loki?”.
O disco de Arnaldo baixou à
Terra como uma visão estética e individual, o que o levou a ser comparado a Syd
Barrett, do Pink Floyd. Não tinha equivalente entre seus contemporâneos, como
ainda não tem. Seu combustível original foi uma desilusão amorosa, como em 90%
do pop, mas o resultado é uma iluminação universal.
No resto do mundo,
insinuava-se uma promessa de futuro tecnológico brilhante. Naquele ano, o
Kraftwerk lançou o clássico “Autobahn”. A família dos sintetizadores recebia o
revolucionário Moog Satellite, que seria muito usado por Vangelis nas trilhas
do novo cinema.
Arnaldo Baptista transcendia
sua dimensão, vivia num disco voador. Tinha ido ao topo da glória pop com Os
Mutantes, mas, recém-saído da banda, continuava olhando muito além. Na foto da
capa, com a calça de couro marrom sem camisa, a postura de quem está à espera
de algo ou alguém, ele parecia demonstrar que não tinha voracidade pelo futuro,
nem reverência pelo passado. Criava sozinho a realidade, apegado aos seus
sonhos e às suas visões, e é isso que prevalece em “Loki?”.
São célebres as confissões
de Sean Lennon e Kurt Cobain acerca da influência que Arnaldo Baptista e os
Mutantes tiveram em sua música, mas é ainda mais amplo o leque, que vai de
Devendra Banhart a Kevin Parker, do Tame Impala. No Brasil, essa influência se
estende por gerações, audível em canções de Boogarins e O Terno.
Por isso, o retorno do vinil
da obra pela Polysom (Universal Music, 180 gramas, arte original, encarte
inédito com todas as letras) é tão simbólico: álbum transcendental, registra as
ondas das influências naquele momento de transição – Arnaldo o fez ainda
cercado pelos antigos companheiros, como se fizesse uma interseção. Há vocais
de apoio de Rita Lee em duas canções (“Não Estou Nem Aí” e “Vou Me Afundar na
Lingerie”) e os músicos são Liminha (baixo; Sérgio Kaffa toca o baixo apenas em
“Desculpe”) e Dinho (bateria).
Não atire no pianista, diziam os cartazes nos saloons do Velho Oeste. Era peça de difícil reposição. No caso de Arnaldo, um piano foi tudo que ele precisou para fazer um dos discos fundamentais da música brasileira.